Procuro sempre a tese: é um trabalho que me apaixona, pois devo ser sincero para com aquilo que sou, e não passo de um experimentador. A meus olhos, o único valor consiste em não ditar leis, mas ser um experimentador, experimentar é a única coisa que me entusiasma.
Orson Welles (1)
Sônia Silk (interpretada por Helena Ignez) deambula por Copacabana com um grande sonho: ser cantora da Rádio Nacional. Ela vai se confrontando de forma direita com a câmara e os transeuntes na rua. Não existe a fronteira entre a vida e a escena que está se registrando.
É o ano 1970 no Brasil. No meio de um clima de paranóia, por conta de um ano de repressão após o AI-5, Rogério Sganzerla começa a experimentar a lente cinemascope, tendo como resultado esse terremoto tropical ou Tropicalista(2) chamado Copacabana, Mon Amour. Um dos sete filmes produzidos por Belair.
Segundo o crítico Jairo Ferreria, as origens da estética experimental no cinema brasileiro são totalmente incertos, mas poderia-se falar de uma nova estética experimental que começa a ser cultivada por volta de 1967. O experimental no cinema brasileiro explora novas formas para novas ideias, novos processos narrativos e novas percepções, visando atingir novas áreas de consciência.
A criação da produtora Belair, em 1970 (Rogério Sganzerla + Júlio Bressane), supõe a radicalização de uma proposta cinematográfica no terreno da estética. São filmes com alusões muito direitas aos aspectos da vida brasileira, através da ironia, de um novo erotismo, de uma hiper gestualidade, colocando os problemas daquela época no campo do Kitch. Belair desenvolve um cinema como produtora ligado às tradições brasileiras e à arte popular (o samba, o candomblé, o rádio e o jeito de ser brasileiro).
É comum encontrar a etiqueta “cinema marginal” para se referir as formas de fazer cinema de Belair. Embora seja somente uma maneira de identificar um conjunto de filmes dessa época, o termo não era bem-vindo. O “marginal” ficou com relação aos anos mais escuros da ditadura. Aliás, a expressão de Jairo Ferreira “cinema de invenção” faz justiça às produções daquela vanguarda. Segundo Ismail Xavier, esse movimento assumiu o risco da invenção pagando o preço da censura e da marginalização. De alguma maneira, afirma o professor da USP, o conceito “marginal” é reativo porque os cineastas não tiveram uma atitude deliberada de ser marginal.
Nos filmes de Rogério frequentemente aparecem ângulos preciosistas, de mau gosto, alterações da câmera ou enquadramentos não direitinhos. No Manifesto-texto que escreveu sobre o filme O Bandido da Luz Vermelha (1968), afirmava ser acadêmico somente quando lhe interessava, e além do mais, descrevia o seu cinema como péssimo e livre, paleolítico e atonal, panfletário e revisionário. Desta maneira a ruptura ao movimento de elite, aristocrático, paternalizante e acadêmico, ou seja, o Cinema Novo, era já um fato.
Fevererio, 2014. No mítico Cinema Odeon de Rio de Janeiro acontece uma sessão especial. A exibição da cópia restaurada em 35mm de Copacabana, Mon Amour. Dita restauração vai a cargo de Hernani Heffner, diretor da Cinemateca do MAM/RJ e ministrada por Sinai Sganzerla (filha de Helena e Rogério) e a mesma Helena Ignez (musa e companheira do diretor).
Após os agradecimentos, o filme começa arremessando ao espectador o olhar da vida mesmo dos morros no Rio de Janeiro. Rogério fazia uma distinção entre os cineastas da alma e os cineastas do corpo. Os primeiros desenvolviam um cinema fundamentado pela “distância cínica” de uma câmera interessada em registrar a violência e a agilidade das “tragédias físicas”. Nos segundos, onde incluir o mesmo Rogério, o corpo é pura gestualidade manifestada em diferentes dimensões, isto é, no pensamento, no movimento e na ação.
O corpo de Helena Ignez berra reiteradamente tenho pavor à velhice! Ela é a figura central desse cinema de invenção. No filme, o corpo dela caminha entre a santidade e a sensualidade. É um corpo orgástico, dionisíaco.
Nessa impossibilidade de distinguir entre a vida e o cinema, a improvisação é uma ferramenta chave. O filme não é uma representação, mas uma apresentação que vai se construindo e vai se mostrando. A câmera registra as performances dos corpos livres, sensuais e revolucionários, mas também são corpos explorados, desesperados, servis, colonizados, desenvolvidos…
Tudo fica carnavalizado através da coreografia que o corpo invisível da câmera desenvolve. É impossível não sentir a falta desse corpo que constrói junto a Helena esse delírio brasileiro. A escena do guincho girando com Helena Ignez e Paulo Villaça dançando meio pelados ao ritmo da música “Mr. Sganzerla” de Gilberto Gil é uma chamada à ação. A vida não consiste em ficar sentado na poltrona do cinema. A vida é pra valer, não se engane, não – como falou o poeta.
Fica inaugurada uma nova etapa no Brasil.
1Nota extraída do “Cinema da invenção”, Jairo Ferreria.
2Esse tipo de experimentação acontecerá dez anos mais tarde em A Idade da Terra de Glauber Rocha.
Referências bibliográfica
FERREIRA, JAIRO. Cinema de invenção. São Paulo: Limiar, 2000.
PERSON, LUIS SERGIO. São Paulo S/A. Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/86/dvdsaopaulo.htm>. Data de acesso: 24/02/2014.
XAVIER, ISMAEL. Alegorias do desenvolvimento. São Paulo: Cosac Naify, 2012.


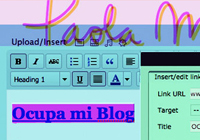
Pingback: Sganzerla / Belair | Paola Marugán